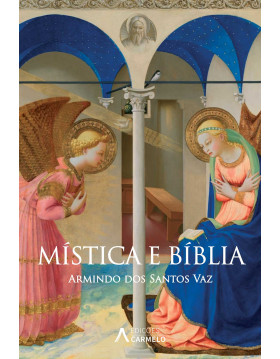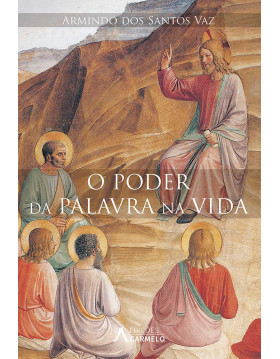Víctor Manuel Marí Sáez, Universidade de Cádiz. Revista Iglesia Viva
Este livro procurou-me. Não, não fui eu quem foi à sua procura. De há uns anos a esta parte fui aprendendo a fazer mais caso das situações, pessoas e acontecimentos que vêm ter comigo, do que daqueles que eu procuro, por minha vontade ou desejo. O ser humano caracteriza-se por fazer, mas também por deixar-se fazer. Por alcançar, mas também, como no meu caso, por sentir-se alcançado.
Para situar o leitor, é necessário que eu remonte pelo menos a três anos atrás. Decorria o verão do ano 2019. No mês de junho chegava eu à cidade francesa de Bordéus, para uma estadia de investigação. Trata-se de uma das atividades que faz parte do trabalho de quem, como eu, é professor universitário. O objetivo de fundo desta estadia era distanciar-me de diversas situações de inércia no trabalho que, como mós de um moinho, estavam a esmagar-me a pouco e pouco. Temo que não fosse para fazer do meu grão de trigo um bom pão, mas para me aniquilar como pessoa.
Os dois anos anteriores tinham sido especialmente intensos em atividades, responsabilidades, compromissos e tensões laborais. De modo que, ao chegar a Bordéus, à noite – recordo-me como se fosse ontem –, caí na cama e, a tremer, comecei a chorar. De cansaço. Físico. Mental. Moral. Também de alegria, por poder sair, momentaneamente, dessas dinâmicas destrutivas e autodestrutivas.
Nesse parêntesis de cinco semanas, em Bordéus, pude retomar ritmos vitais mais sãos e, assim, reencontrar-me com algumas das coisas de que mais gosto na minha profissão: a leitura e a escrita. Nessa altura, contei com a compreensão, o apoio e a proximidade do meu anfitrião, o professor Jean-Jacques Chèval.
Tive então a intuição de ter de sair de debaixo das mós que me estavam a triturar. É que, às vezes, está-se tão envolvido que custa ver o óbvio. A primeira das mós da qual urgia sair era um cargo universitário que me tinha calhado, após a extinção da equipa que até então gerira um programa de formação na minha universidade. A 1 de setembro de 2019 apresentei a renúncia a esse cargo por motivos pessoais, sem dar mais pormenores. Foi aceite. Obviamente, encarreguei-me de fazer uma retirada responsável. Senti um grande alívio, ao ver que começava a empregar os meios que me permitiriam sair das dinâmicas que tanto dano me estavam a causar.
Comecei esse curso académico de 2019-2020 com a decisão de tomar medidas noutra das frentes que estavam sob o meu controle: as atividades, publicações e projetos que não eram estritamente obrigatórios, mas em que muitas vezes me via metido, em parte como consequência do meu trabalho académico, e em parte pelo que Byung-Chul Han tão bem retratou no seu best-seller A Sociedade do Cansaço[1].
Esta era a dinâmica em que me encontrava quando, em março de 2020, chegou a Espanha a pandemia do coronavírus e o confinamento domiciliar. Esse momento disruptivo[2] foi como uma segunda epifania que me permitiu ver que o chamamento coletivo a puxar o travão de emergência ao tipo de civilização que nos trouxera ao colapso, também tinha, para mim, uma releitura pessoal. Era uma espécie de confirmação de que eu devia dar continuidade ao caminho que tinha iniciado no verão anterior. As mensagens institucionais emitidas pelo governo de Espanha («sairemos melhores e mais fortes desta situação») animavam-me a pensar que o caminho pessoal que estava a tentar iniciar tomaria uma dimensão coletiva. Os meses posteriores afirmariam o contrário: a maioria das pessoas tinha pressa em voltar a fazer girar as rodas em que, como hamsters, corria presa há tanto tempo.
Desde o início do confinamento domiciliar eu vinha sofrendo de uma forte dor nas costas, na zona lombar, que se começou a manifestar durante as últimas aulas presenciais na universidade, a inícios do mês de março de 2020. Como não podia ir presencialmente ao médico por causa do confinamento, e as consultas telefónicas estavam colapsadas, demorei quase três meses a fazer a radiografia que confirmou que, efetivamente, tinha um problema numa das vértebras lombares.
Quando a pandemia o permitiu, iniciei umas sessões de fisioterapia, com a sorte de cair nas mãos – não poderia dizer melhor – duma fisioterapeuta muito intuitiva, Elena. Ao fim de várias semanas de terapia, ela ficou desconcertada porque o que via com as suas mãos não correspondia ao grau de dor que eu sentia e lhe transmitia. Embora eu, sendo varão, tenha um limiar de dor bastante baixo, ela achava que devia haver mais qualquer coisa. Aconselhou-me a fazer uma ressonância magnética.
Mais uma vez, quando as circunstâncias o permitiram – em fins de agosto – fiz a desejada ressonância. Confirmou-se a lesão que a radiografia de junho já tinha detetado. O relatório referia isso e ainda constatava a presença duma mancha, próxima de um dos rins, e que o técnico aconselhava a examinar mais detalhadamente. Isto levou-me a fazer um novo exame, um TAC[3], para despistar a questão. Em outubro a incógnita recebeu um nome: um tumor cancerígeno acima do rim direito. Tinha de ser operado urgentemente.
Deram-me a notícia quando estava a sair de uma das minhas aulas na universidade. Foi um autêntico choque, uma reviravolta totalmente inesperada nesta cadeia de acontecimentos que apenas relato sucintamente e que, só agora, a pouco e pouco, começo a ver interligados. Ao chegar a casa rompi num pranto com Flori, a minha mulher. Ainda tinha tantas coisas por resolver, aos 50 anos! Mas, sobretudo, queria levar a cabo o acompanhamento dos meus dois filhos até à vida adulta. Pedi, então, a Deus que me desse a oportunidade de continuar o meu caminho neste mundo; ao menos por mais algum tempo.
O mês e meio que passou entre o diagnóstico e a operação foi complicado. Tinha de estar preparado para tudo. Embora desejasse continuar, tinha de me preparar para a possível despedida. Depois da dura notícia, que tive de comunicar aos meus entes queridos, seguiu-se um processo destinado a tentar viver reconciliado com esta nova realidade na minha vida. Com o apoio, o encorajamento e as orações de muitas pessoas próximas, entrei na sala de operações em novembro. Só me recordo dos primeiros segundos. Os efeitos da anestesia foram imediatos. Seguidamente veio uma grande luz. Não era a que dizem que existe no final do túnel. Despertei, pouco a pouco, numa sala de recobro. Dali levaram-me para o meu quarto, e disseram-me que tudo tinha corrido bem: tinham conseguido extrair todo o tumor, e que, por estar encapsulado com o meu rim direito, não o tinham podido salvar.
Ao fim de seis dias no hospital, cheguei a casa em finais de novembro de 2020. A partir dali iniciei um lento período de recuperação, no qual tive de começar do zero em muitos aspectos. Não podia levantar-me da cama sem ajuda, nem podia comer alimentos sólidos. E quando consegui andar, tive de o fazer acompanhado por alguém. Primeiro, em casa. Depois, na rua. E ao fim de cinco minutos ficava cansado. Depois, ao fim de dez, quinze, vinte.
Em meados de janeiro de 2021 quando, ingenuamente, pensava que dentro de poucos dias ou semanas, voltaria à atividade plena na universidade, um novo golpe atingiu a minha vida. Desta vez, relacionado com as tensões e os desgastes laborais. Um dos meus inimigos tinha redobrado as suas ações de hostilidade contra a minha pessoa. A minha universidade fazia-me chegar uma denúncia sua contra mim, em que os factos estavam vilmente distorcidos, para dar uma falsa aparência de realidade. Qualquer pessoa, porém, que trabalhasse na universidade e lesse tal denúncia, mesmo sem conhecer o caso em pormenor, teria pistas mais que suficientes para deduzir que nela havia numerosas inconsistências de fundo. Comuniquei-o por escrito, mas foi em vão. E por fim, apesar da minha situação – ainda com uma ligadura na cicatriz e com as dificuldades próprias do período pós-operatório – tive de dirigir-me ao escritório do responsável universitário que me notificara da denúncia da denunciante. Queria dar a cara, e defender-me presencialmente, perante ele, das falsas acusações: dizer-lhe que essa denúncia não se aguentava de pé e que, em todo o caso, quem andava a ser castigado, já há anos, era eu.
Apesar dos argumentos contundentes que comuniquei a essa pessoa, obrigaram-me a cumprir os trâmites que, só pelo facto de ter de passar pelo processo, muito me faziam sofrer. Pedi com insistência que, dadas as circunstâncias de saúde em que me encontrava, me prorrogassem o prazo da resposta que devia apresentar por escrito, com muita urgência; e consegui o adiamento até à data em que me concederiam alta médica. Em finais de junho surgiu esta e volvi ao meu posto de trabalho; quinze dias depois, apresentei a minha defesa por escrito. Quase trinta páginas em que tive que desmontar a série de mentiras, falsas imputações e deformação dos factos que, com tanta maldade, o denunciante tinha tecido.
Esses meses de convalescença serviram-me ainda para ir tomando consciência do ambiente tóxico em que se vinha desenvolvendo o meu trabalho na faculdade e que eu, consciente e inconscientemente, carregava sobre os ombros. Vinham-se cozinhando circunstâncias que, no seu conjunto, resultavam no atual ambiente tóxico irrespirável: o ataque a uma pessoa era acompanhado do silêncio cobarde de outras que, tendo responsabilidades institucionais, não fizeram o que estava nas suas mãos para parar o processo. E a isto somava-se a inveja de alguns e a rejeição de outros, diante dos quais jamais demonstrei a submissão que desejavam.
A resolução da denúncia chegou poucos dias depois do envio da minha resposta escrita. Porém, diante do meu documento, detalhado e exaustivo, o texto do organismo competente apenas tinha oito linhas. Nelas se dizia o óbvio: que eu não era culpado do que me acusavam. Mas nada se dizia quanto à penalização da outra parte pelas falsas acusações.
Depois de ponderar prós e contras de pedir mais explicações, dei uma série de passos conducentes a pedir que fossem penalizadas as falsas acusações vertidas contra mim. E se tinha sido duro viver esse processo até ali, mais duro foi, porém, experimentar o dano moral de ver vários responsáveis institucionais fazer de conta que não viam as minhas petições, demonstrando-me que não se iriam queimar para que se fizesse justiça e fossem restituídos os meus direitos. E, no melhor dos casos, animavam-me a iniciar um novo processo burocrático que, como o anterior, só de o iniciar me penalizava, por me ver metido na mesma lama em que tão bem se chafurdam alguns animais e algumas pessoas. Uma saída kafkiana, no sentido amplo da expressão.
A tomada de consciência, pela minha parte, de todo este ambiente tóxico, era acompanhada da procura duma saída que me permitisse distanciar-me dele. Por isso, ao receber a dispensa, em fins de junho de 2021, vi que chegava ao correio da universidade, o anúncio da abertura de uma bolsa para a realização de estadias de investigação em universidades estrangeiras durante doze meses. Não estava muito convencido de querer fazer tal estágio já que, dadas as minhas circunstâncias, não queria separar-me da minha família, da minha Cádis, da minha gente. Contudo, em casa, animaram-me a candidatar-me e, apesar das minhas reticências, assim fiz.
Como acontece com tantas coisas que se fazem com pouca esperança, consegui uma dessas oportunidades. A bolsa era para una universidade em Braga, Portugal, onde um amigo espanhol me tinha conseguido uma carta de convite, emitida por um dos investigadores desse centro. Tinha, pois, um horizonte por diante que me permitiria ganhar distância, ter tempo para ler e investigar e, além disso, alcançar a desejada oportunidade para cultivar relações académicas para, quem sabe, num futuro próximo, conseguir um cargo temporário de investigador nesta universidade.
Com essa disposição cheguei a Braga no dia 17 de janeiro de 2021. Como todo o emigrante trazia a mala cheia de sonhos e de projetos. E como autoexilado – com a dor de ter tido que deixar forçada e forçosamente o meu ambiente – chegava procurando sobreviver à toxicidade insuportável que sobre mim recaíra. A sensação ambivalente foi-se tornando mais negativa logo nos primeiros dias, ao comprovar que a minha busca de um poiso que reunisse condições para eu trabalhar e me recompor, estava a tornar-se impossível. A isto somou-se a falta de um acolhimento à altura das circunstâncias, por parte da instituição recetora: passaram-se trinta dias até que um académico daquela universidade portuguesa me recebesse! E pelo caminho, durante esses dias, foram-se esfumando os desejos e as expectativas de que nessa universidade encontrasse a saída profissional temporária pela qual eu tanto anelava, uma vez terminada a bolsa de doze meses.
Não obstante, iam também aparecendo sinais positivos. Como tantas vezes na vida, fecha-se uma porta e abre-se uma janela. O problema do alojamento consegui que, providencialmente, se resolvesse, graças à receptividade e acolhimento do prior da comunidade de Carmelitas Descalços de Braga. Fui ter com ele para pedir alojamento e ofereceu-me um dos quartos disponíveis no albergue que têm preparado, junto da Igreja do Carmo, e onde acomodam estudantes do ensino médio, mestrado e doutoramento de alguns países lusófonos (Angola, Moçambique, Timor-Leste, etc.).
No dia vinte e um de janeiro mudei-me para esse quarto, no qual construí um ninho que me permitia a sanação que procurava. Nesses primeiros dias ia-se misturando a ambivalente sensação de ação de graças – pela oportunidade que começava a viver – e a experiência de amargura e de silêncio no acolhimento por parte da universidade (para lhe chamar alguma coisa). Entretanto, nas idas e vindas do Carmo ia-me encontrando com a estátua do Carmelita Frei João d’Ascensão que está na rua, junto à entrada da igreja. Tinha-me chamado a atenção como a gente simples, a caminho do mercado ou dos seus afazeres, parava diante dele, com respeito e devoção. Logo comentei com o prior da comunidade que gostaria de fazer um trabalho etnográfico, perguntando às pessoas o que pensavam deste Carmelita Descalço. Quando lho disse, indicou-me que, na atualidade, estava em curso um movimento visando resgatar esse irmão Carmelita, a quem chamavam Fradinho. Aliás, logo acrescentou, que para as pessoas simples da cidade, já ele era um santo desde os seus últimos anos de vida, na segunda metade do século XIX.
Foi neste contexto que se me atravessou, como um relâmpago, a ideia deste livro. Alheado de tudo, numa situação análoga à que viveu um autor de espiritualidade muito importante para mim, Henry Nouwen, antes de ter começado a escrever um dos seus livros mais conhecidos e que mais me influenciaram: Mi diario en la Abadía Genesee[4]. Nesse livro, Nouwen pede permissão a um conhecido prior trapista dos E.U.A., para partilhar a vida da comunidade durante sete meses, como se fosse um dos monges. Tendo sido aceite conseguiu escrever um dos livros mais sinceros e profundos que já li sobre espiritualidade cristã e amadurecimento pessoal.
As diferenças entre o que eu aqui apresento e o seu livro são muitas. Para começar, eu não estou a viver na comunidade Carmelita. Também não sou teólogo nem pastoralista, e menos ainda um autor destacado. Mas dá-me impressão de que existe um ambiente e uma procura similares, que me levam a tentar encontrar um sentido para a situação que, a pouco e pouco, se ia carregando de ausência de sentido.
Foi assim que, na encruzilhada em que se encontra a minha vida, e perante o vazio de expectativas de aprofundar a minha colaboração académica com a universidade de acolhimento, para lá do plano de trabalho mínimo acordado, me veio a ideia de escrever um diário da minha vida aqui, em Braga. Neste diário, juntamente com os avanços e retrocessos do meu trabalho de encontrar um sentido para a cadeia de acontecimentos que se foram sucedendo na minha vida (e que, brevemente, acabei de introduzir), iria entretecendo o conhecimento dessa imagem magnética e enigmática do Fradinho.
As primeiras coisas que li sobre ele conduziram-me a uma identificação que me surpreendeu: antes que chegasse a notificação formal da proclamação da desastrosa notícia da dissolução das ordens religiosas – na sequência do processo de exclaustração[5] iniciado no sec. XIX – o Fradinho decidiu pôr-se a caminho, de Lisboa para Braga, com um pequeno grupo de jovens professos. Existem aqui, de novo, algumas analogias possíveis: também eu me pusera a caminho, num ato de sobrevivência, antes que as desastrosas notícias e os ambientes tóxicos acabassem comigo! Também eu chegava a Braga com a esperança de que, pelo caminho, as coisas se fossem aclarando e ganhando sentido. Além disso, creio que, salvo as distâncias contextuais, a experiência de fé do Fradinho, vivida num ambiente que proclamava o desaparecimento de Deus da vida social, pode ter alguma coisa a dizer ao atual contexto de indiferença religiosa em que, de outras formas, se vivem atitudes similares. Por isso, meditar sobre a sua figura pode ajudar-me a encontrar pistas para viver e anunciar a mensagem cristã aos nossos dias.
O que o leitor e a leitora têm entre mãos é, pois, o diário que, ao vivo e em direto, fui escrevendo nos dias que passei em Braga. É um livro escrito em paralelo com a vida, tal qual ela me foi chegando e eu a fui vivendo e percebendo. Mudei alguns nomes, na tentativa de ser respeitoso com quem se foi cruzando comigo. Outros acontecimentos ou vivências, não aparecem diretamente: em alguns casos, para manter a intimidade e privacidade que muito valorizo, por exemplo, com os meus filhos, mulher e familiares, a quem mais amo nesta vida; noutros casos, como no trato com os restantes hóspedes do albergue porque, como dizem os futebolistas, há questões que ficam no campo de jogo, e dali não devem sair.
Recordo que fui lendo Mi diario en la abadía Genesee a pequenos sorvos, saboreando as páginas que se referiam a um ou dois dias do protagonista, e deixando que as suas vivências, meditações, preocupações e desejos calassem fundo em mim. Umas eram profundas. Outras eram escandalosamente prosaicas e, mais ainda, num tão destacado autor de espiritualidade. Mas assim creio que é a vida real: tem dias cheios de sentido e outros rotineiramente medíocres.
Do igual modo, eu gostaria que fosse lido este livro: a pequenos sorvos. Para ver como se vai produzindo esse árduo esforço de dar sentido a tanta ausência de sentido e, em paralelo, para se avaliar como esse trabalho se vai entretecendo com o meu processo de conhecimento da figura do Fradinho que, desde o princípio, está ali, oferecendo-se-me e interpelando-me. Não creio que tenha conseguido plenamente este objetivo. Talvez algum leitor ou leitora, à vista dos factos, e do meu modo de os viver, veja mais claramente o que eu tenho muita dificuldade em perceber. Também não creio que a minha vida seja espetacular, nem que o meu modo de enfrentar as dificuldades tenha sido heroico. Pelo contrário, estou certo de que outras pessoas poderiam relatar acontecimentos muito mais duros e de uma experiência de fé mais profunda. Talvez seja o prosaico dos factos, unido à debilidade da minha fé e às minhas dúvidas, que faça gerar mais proximidade a quem leia estas páginas. O que me anima, seguindo as pegadas do texto inspirador de Henry Nouwen, é o desejo de andar na verdade, de olhar cara a cara a vida e tentar iluminá-la a partir da luz da fé cristã.
Não me anima, portanto, a crença de que a minha vida tenha alguma coisa de exemplar. Pelo contrário: espero que o que aqui se relata ajude outras pessoas, nos seus caminhos pessoais, a encontrar a Luz, a encontrar-se com os outros, a sua abertura ao Mistério e ao sentido da vida. E, além de tudo isso, que este trabalho sirva também, para ajuntar mais um grãozinho de areia à tarefa de resgatar a imagem e a memória do Fradinhonas pessoas dos nossos dias.
(NOTA: O livro está à venda no Carmo do Fradinho, em Braga. PVP 9,00€. Pedidos: braga@carmelitas.pt)
[1] “Agora a pessoa explora-se a si mesma e pensa que se está a realizar”. Assim dizia o cabeçalho dum artigo de informação sobre o autor coreano, assinado por Carles Geli no diário El País, em 2018. Em relação ao conceito de autoexploração, diz o seguinte: «na opinião do filósofo passou-se “do dever de fazer” uma coisa ao “poder fazê-la”. “Vive-se com a angústia de não se fazer sempre tudo o que se pode” e, se não se triunfa, é por culpa própria. “Agora a pessoa explora-se a si mesma imaginando que se está a realizar; é a pérfida lógica do neoliberalismo, que culmina na síndrome do esgotamento do trabalhador”». Em: https://elpais.com/cultura/2018/02/07/actualidad/1517989873_086219.html
[2] Disrupção: rotura ou interrupção brusca de um processo.
[3] TAC, sigla de Tomografia Axial Computadorizada, um exame auxiliar de diagnóstico mediante o qual se faz uma pesquisa da parte do corpo que se deseja verificar, com um scanner de raios X.
[4] Publicado, em espanhol, na editora PPC, em 1999, a partir da experiência de Henry Nouwen (1932-1996) de viver no mosteiro trapista do Estado de Nova York, em 1974, quando contava 42 anos de idade.
[5] A exclaustração foi um processo impulsionado pelos governos liberais, em Portugal e em Espanha, em datas similares, com o fim de expropriar a Igreja e levar a cabo, entre outras medidas, a dissolução das ordens religiosas.

![Introdução ao Livro Um [de] <em>O meu Diário no Carmo do Fradinho</em>](https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/wp-content/uploads/2023/05/PORTADA-O-MEU-DIARIO-MAYO-1280x640.png)